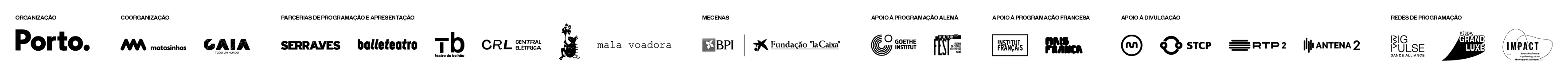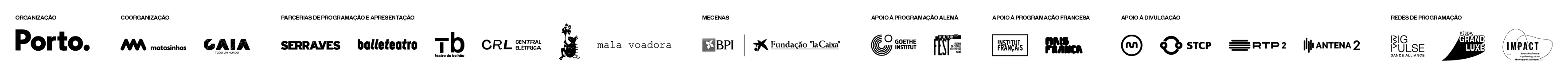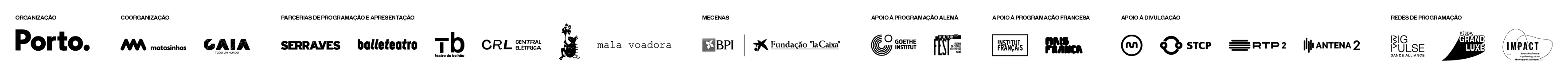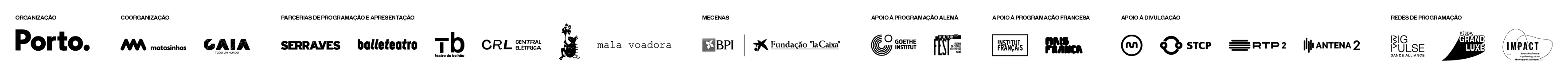.
.
MAIS

Samuel Silva
— Jornalista —
Com: John K. Cobra, Ong Keng Sen,
Tamara Cubas
Moderação: Nayse López
Provocação artística: Alejandro
Ahmed
Há um espectro que ronda toda esta conversa: o
espectro da pandemia. A experiência traumática dos últimos dois anos é uma
marca em todas as falas, uma referência permanente; serve de ponto de comparação
para quase todas as experiências. Foi um “momento radical”, resumiu o encenador
Ong Keng Sen. Um processo “importante” porque “todo o mundo estava nivelado”
nesse momento.
Pela primeira vez – pelo menos nos nossos tempos de vida – “o
mundo parou”. Ninguém saiu de casa. Ninguém viajou, ninguém subiu a um palco,
poucos conseguiram continuar a criar. Por uma vez, todas as pessoas do planeta tiveram
que enfrentar o mesmo problema, lembra Keng Sen. Há, por isso, um antes e um
depois da pandemia.
Mas também há um durante a pandemia, assinalou o artista plástico Roland Gunst (também conhecido
como John K. Cobra), quando lembrou a “paz de espírito” que sentiu nesse
momento em que todos travámos a fundo. De repente, não era foi necessário
responder à permanente solicitação da novidade e essa parece ter sido uma
sensação de liberdade e também de aprendizagem.
Ainda que esta ideia não tenha sido explorada nesta primeira
sessão do ciclo de conversas que os festivais DDD e Panorama promovem por estes
dias, importa fixá-la. Talvez venha a ser importante nas próximas sessões,
sobretudo quando se refletir sobre o futuro das práticas artísticas, as novas
formas de produção, de performance e, necessariamente, também de programação.
Nesta primeira conversa (aconteceu em formato online, a 4 de
abril) o tema era a sustentabilidade. Mas, afinal, do que falamos quando
falamos de sustentabilidade? Falamos, sobretudo, de questões ambientais, como
foi sistematizado na introdução à sessão feita pela moderadora Nayse López e pelo
coreógrafo Alejandro Ahmed? Ou a sustentabilidade “é mais complexa do que isso”,
como sugeriu Tamara Cubas?
Talvez algo de intermédio, a avaliar pelas restantes
intervenções. A questão ambiental – não se usou a expressão “emergência
climática”, mas ela também pairou sempre na conversa – é incontornável e vai
marcar os debates e as decisões dos próximos cinco a dez anos. No entanto,
nesta sessão recusaram-se as soluções simplistas. A questão é de facto “mais
complexa” e a precisar de soluções mais profundas do que uma redução drástica
nas viagens de avião ou um menu integralmente vegan nos festivais podem
garantir.
O texto introdutório deste ciclo de conversas enunciava que,
durante os primeiros tempos da pandemia, vivemos com a sensação de que, findo
esse período, nada ficaria igual. O problema é que “talvez muita coisa tenha
ficado pior!”, escrevia-se. Esta foi uma ideia também explorada, na conversa no
dia 4 de abril, por Ong Keng Sen e Nayse López. Nos primeiros encontros de
programadores após a pandemia, parecia que “nada tinha mudado”. “Parecia 2015”,
ilustrava a diretora do festival Panorama, que moderou a sessão.
Uma inquietação a que tentou responder Ong Keng Sen quando
apontou para um processo (de mudança) “que está incompleto, inacabado”. Half-digested. Há esperança?
Esta conversa decorreu, portanto, num contexto
pós-traumático e de mudança (ou pelo menos de vontade dela). Falamos de
festivais. Da forma como são feitos – programados, produzidos, também
comunicados. Da pertinência deste lugar de encontros.
Na “provocação” em vídeo com que iniciou a sessão, Alejandro
Ahmed lembrou a importância histórica destes eventos. Para a companhia Cena 11,
que dirige a partir de Florianópolis, no Sul do Brasil, integrar a programação
de festivais – sobretudo na década de 1990, pré-Internet – foi a oportunidade
de “ser visto” e chegar a plataformas nacionais e internacionais que de outra
forma lhe seriam inacessíveis.
Os festivais também são uma forma de encontro com outros
artistas e de formação. “É vital sair do seu lugar”, diz Ahmed. “Estar em
contacto com outro modo de pensamento, com outro modo de urbanismo e com outro
modo de organização da via sócio-cultural”. Os festivais permitem-no. As
viagens pelo mundo também.
A pertinência que mantém o encontro, a presença física num
espetáculo ou num festival uma das ideias mais fortes que perpassou várias
intervenções. Ken Sen valorizou a dimensão do festival como “tempo e espaço
para o encontro”. Para sentir os corpos, o suor, a saliva do outro.
A coreógrafa Tamara Cubas afirma que “é muito importante a
experiência de estar num outro lugar”, para “entender o mundo e até para
entender o lugar de onde somos”. Vermos uma imagem de um lugar, não é estar no
lugar, referiu. “Não seremos capazes de viver juntos fará com que tenhamos
apenas uma ideia vaga do que é o outro”. E isso é, avisa a coreógrafa uruguaia,
uma “coisa perigosa”.
De resto, na “provocação” inicial Alejandro Ahmed já havia
apontado para o “desafio histórico” da presença nas artes vivas na introdução à
conversa. Havia que encontrar alguns caminhos de resposta. Roland Gunst sugere
que os festivais “não podem ser uma pura representação da sociedade em que está
instalado”. Devem questionar, desordenar.
Para Nayse López não é possível continuar a fazer festivais
da mesma forma como todos os grandes eventos têm vindo a ser feitos nos últimos
anos. “Não tenho nenhuma vontade de programar 25 espetáculos se eles não forem
parte de uma questão mais ampla”.
Essa “questão mais ampla” é uma possibilidade de resposta às
inquietações levantadas. O que pareceu claro nesta conversa foi a vontade de
questionar os fundamentos.
Nesse sentido, nenhuma intervenção foi tão vital como Ong
Keng Sen, que lançou perguntas radicais: “O que é valioso naquilo que eu faço?”;
“Será que o caminho é fazermos outra coisa juntos?”; “Quem é o público [dos
festivais]?”.
E então “O que significa estar presente?” perguntou também,
avançando com uma possibilidade de resposta: face aos desafios da
sustentabilidade, devemos questionar os nossos movimentos, as nossas viagens, e
selecionar onde podemos e devemos estar presentes. O essencial, propõe Keng Sem
é “estar presente onde a mudança é necessária”.
Ou seja, “ainda é importante” reunir 50 pessoas de todo o
mundo, mas é preciso que essas pessoas sejam “fazedores de mudanças”, que
depois desse encontro possam voltar para os respetivos contextos e mudar as
suas realidades locais. “A reunião humana continua a ser importante”. A questão
será tornar significativa cada um desses encontros.