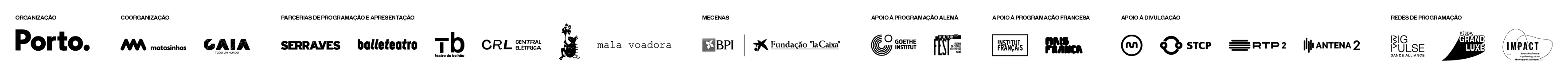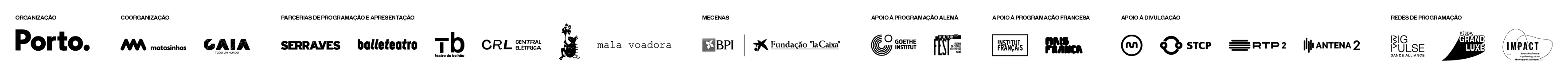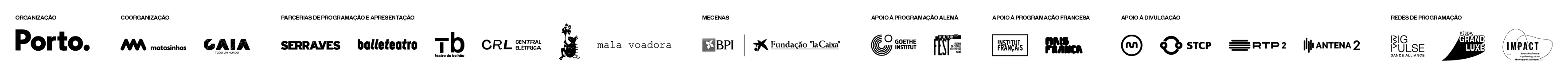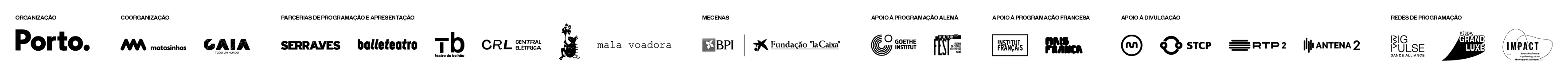.
.
MAIS

Rossana Mendes Fonseca
— Fotógrafa e escritora —
Ouvimos um batimento, como um metrónomo. Do lado esquerdo de quem olha, uma pilha de manuscritos isolada. Do lado direito, alguém nos espera já em palco: um corpo quase despido com uma caixa no colo, sentado, balança-se levemente numa cadeira. Na suspensão do desequilíbrio, parece estar à espera que esteja tudo arrumado ali à frente, do nosso lado do público. E, então, na luz baixa e no rumor ainda da sala, esse leve balançar colapsa na queda. Escuro.
Vemos a projeção de um edifício, de uma casa, no plano frontal e uma pilha de roupa iluminada, onde se amontoam mais peças de roupa vindas de cima. Vários corpos entram em cena, vestidos de múltiplas cores, seguram peças de roupa individualmente à frente do corpo, apresentando-as como se fossem imagens, quase fotografias das próprias peças. Percorrem o espaço. Caminhando para trás e para a frente, avançam e recuam. Enfrentam obstáculos, objetos, que nos são invisíveis, empurram-nos. Talvez seja a própria luz que evitam, que afastam. Como se a luz queimasse o olhar. Caem, quebram. Convulsionam-se. Colapsam. Parecem puxados e repelidos, ao mesmo tempo, por uma acção magnética sem origem. No magnetismo da própria luz? Ouvem algo? Sentem algo? Há um batimento. Ondas onde soçobrar. Ondulam em efervescência, contorcendo-se: o contorcer de corpos que se rebelam de si mesmos. A pilha de roupa — restos materiais de corpos sensíveis — é varrida do palco. Todos se retiram. Alguém resiste, no limiar da luz. Até ao escuro.
Entram, posicionando-se ora de frente ora de costas no plano frontal. Murmúrios. Rumor. Um labirinto projetado por onde vagueiam. Várias peças de roupa elevam-se, como corpos fantasmáticos, que dançam, rodopiam, flutuam, estacam, tal como os seus pares, aqueles corpos com rosto, palpitantes. Murmúrios. Vozes. Nomes. Datas. Boltanksi e a fantasmagoria da dança da memória na mistura dos corpos sensíveis e os seus vestígios materiais.
Escuro. E do escuro, da noite, saem corpos despidos, cujos contornos se revelam apenas à luz das tochas que seguram, serpenteando no espaço sombrio, movendo-se em estado de vigília, de vela, daquilo que parece evocar a própria materialização do desaparecimento. Luz local. Falando-nos, alguém lê uma carta. Uma carta que fala de dor, de perda e do infinito. Pelo palco, manuscritos, folhas soltas são espalhadas pelo chão, como que criando um espaço quadriculado, uma rede. Os agentes desta configuração espalham-se igualmente pelo chão, avançando, deslizando pelo caminho do labirinto do amontoado de papéis. Papéis, manuscritos, também restos materiais de corpos sensíveis. Cartas, talvez, e a fragilidade da palavra. Num pano branco, são projetadas fotografias de rostos, de objectos que talvez tenham pertencido a alguém. Fotografias. Manuscritos. Roupa. Testemunhos. Restos fantasmáticos de corpos, de vidas. Dá-se, então, voz a uma série de ações presentes e passadas de sujeitos apenas identificados por letras distintas do alfabeto: X e Y fazem isto e aquilo; «S ouve um zumbido todos os minutos do dia»; «Z esqueceu-se da cara da mãe». Intrigas frágeis da banalidade do quotidiano do outro. Ondulantes, os papéis espalhados pelo chão voam. E os corpos, ainda em combate com esse magnetismo que os puxa, os arrasta, os repele, vagueiam no vazio, no absurdo, como que alienados no meio da multidão. Até àquilo que, bruscamente, os faz estacar num batimento acelerado, numa falta de respiração que é, afinal de contas, respiração: aquela que então evoca a sua falta anterior. Num sussurro, partículas caem. A miragem das imagens. Fotografias. Retratos. Objetos perdidos. O pano cai.
À nossa frente, o avesso da casa, as suas vísceras. Agora, densa, pesada, em evidente contraste com a imaterialidade do seu exterior. Uma multidão severa confronta-nos, avança para nós. Aflige-me. Sente-se o seu peso, a sua densidade material. Parecem querer firmar-se perante nós. Avançam uns para a frente dos outros, cada vez mais perto. Até que um a um vão todos caindo. Como se essa densidade material que pareciam afirmar se esvaísse na perda da verticalidade do próprio corpo. E, como roupas, vemos corpos caídos, esvaziados, içados, ondulando, flutuando, suspensos no ar; corpos infinitos, abstratos, nessa dança fantasmagórica, absurda, ao acaso, de atração e repulsão, de vaivém, de queda e do encontro radical com o outro, que, aqui, teimou em constantemente ser: «Nunca lhe aconteceu uma andorinha, uma avezinha qualquer, vir de fora, do ar, do infinito e atravessar-lhe a sala, dando nela umas voltas e depois sair pelo lado oposto, por outra janela, voltando ao ar, à luz, ao sol, ao infinito? Assim nos acontece. Viemos do infinito e para o infinito voltamos».