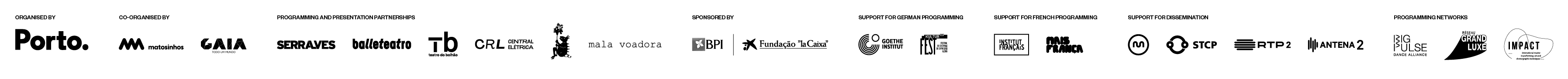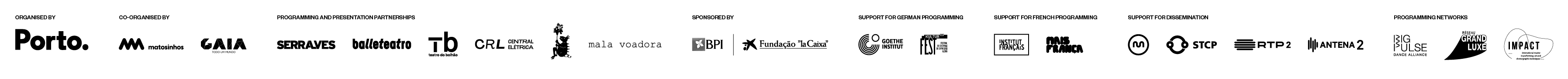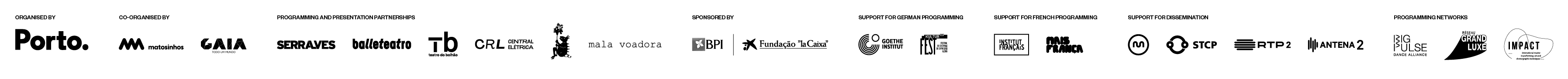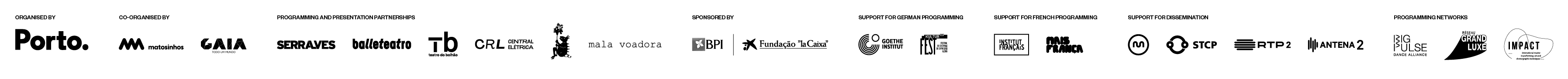.
.
MORE
CATEGORY

Rossana Mendes Fonseca
— fotógrafa e escritora, leitora atenta e séria deambulante —
Entramos e somos, sem mais demoras, apanhados no processo: deixar os nossos pertences no bengaleiro “por questões de segurança”, como nos diz a advertência da folha de sala e as filas indicativas de que para entrar é preciso passar pelas mesmas.
Na espera, voltamos à folha de sala, poderá ter mais especificações relativamente ao modo como proceder, ou apenas saciar o nosso lugar de curiosidade para com a peça. Instruções sobre questões de segurança, alertas de restrições e conselhos sobre o público, esquemas de trajectos para aceder a portas que nos salvam do interior. Telefone de emergência. «O público assiste de pé, a partir das varandas técnicas do palco, não existindo lugares sentados».
Entregam-nos diligentemente máscaras para as vias respiratórias, elemento entre outros que nos alerta sobre a nossa segurança no espaço onde acordámos estar. Arriscamos entrar. Entramos num lugar escuro. Entramos numa das varandas, avistamos mais algumas acima, ou abaixo. Vemo-nos todos uns aos outros. Entramos no dispositivo cénico em que o lugar do público é pensado; o lugar do público pertence ao corpo cénico, é liminarmente com o corpo cénico. Olhamos para baixo, há um abismo. E, na vertigem dele, permanecemos. Inspeccionamos o meio envolvente, ousando forçar o olhar. Acabámos de entrar no interior visceral de um organismo, com as suas paredes e os seus canais à mostra; encontramos cabos que parecem eléctricos à vista, podemos tocar-lhes; existem luzes de presença azuladas, que não nos deixam em absoluta escuridão, e provavelmente assinalam possíveis saídas. Acabámos de entrar no interior de um organismo palpitante, com o qual nos começamos a fundir.
Esperamos. Começamos a entrever um movimento luminoso, como um móbil que circunda uma pista, um pedalar; vemos, ao mesmo tempo, uma grelha a indicar uma área circular com profundidade, como um poço. Um poço encerrado dentro de outro poço; ambos encerrados por grelhas estruturais. O nosso encerramento é o encerramento do poço mais profundo. Sentimos um movimento de ascensão que é sonoro. Auscultamos a sua pulsação. Aqui, tudo está me meio de fazer-se na obscuridade por presença sónica. Parece-nos que algo escala, que algo sobe até nós. Escutamos.
Um grupo em corrida invade as profundezas do nosso poço e, circundando o poço inferior, provoca a agitação do pó que finalmente começamos a discernir no fundo, com a aparência de uma pequena tempestade desértica, que deixa o ar intumescido. Vemos corpos em movimento, que se revelam ao nosso olhar na noite através do rasto luminoso; corpos em corrida e corpos parados como a abrigarem-se da tempestade. Estafetas e metas humanas tocam-se, apalpam-se, tentam sentir-se. Ainda que movimento, há uma suspensão em cada movimento tangencial que circunda o poço e que nos lança nos interstícios de cada passo iluminado. Algo curto-circuita. Flashes, luzes intermitentes nas paredes, nas varandas, nos nossos corpos. Há uma mota, finalmente. Haverá duas. Uma no encerramento do poço inferior que apenas vemos mover-se pelo som e pelo arrasto luminoso. A outra, no andar superior, aparece com contornos instantâneos, flashes instantaneamente breves, que nos dão a ver a promessa do espectáculo.
O movimento levanta-se. A escuridão aproxima-se. Outra vez em suspensão, outra vez em espera, na exigência de nos deixar angustiados perante a vertigem do abismo ante nós, corpos assomam lentamente, como ondas. Corpos totalmente cobertos, vestindo fatos que parecem de exploradores interplanetários num planeta desolado, com instrumentos longos na rectaguarda, criam como que marés, pequenas crateras lunares, que enevoam a sua silhueta. Mergulhados no ar irrespirável, permanecemos ali, perscrutando atentamente o ambiente difuso, de pó e fumo. Tudo se deixa ao desvendar do enigma. Tudo pode apenas ser intuição, interstício sensível. E, no meio do movimento à roda, dá-se um gesto que quebra a repetição, um gesto de alguém que se inclina brevemente para tactear a matéria de que é feita este corpo.
Respiramos, ousamos levantar a máscara, que colocámos na eminência do irrespirável. Vemos um corpo à superfície, vislumbramos uma cabeça sem máscara, corpo nu. Alucinação passageira, talvez. Outro corpo todo coberto vem abraçar o primeiro. Dois corpos, um sobre o outro, impedindo-se, um de ser corpo num abismo de matéria inorgânica, e outro de ser corpo inorgânico no fundo do abismo. O tempo todo num instante. Hipnotizados pela escuridão, pelo movimento circundante e pela luz intermitente, encontramos deserto e as profundezas telúricas num mesmo lugar, a um só tempo. Na sucessão dos instantes concomitantes baralhamos a cronologia dos momentos. Tudo parece (ir)respirável num só tempo. Estamos entregues ao abismo, à vertigem, e já não sabemos contar o início, nem o fim da história. E, a pinhata pendurada, cuja forma amorfa aproximadamente animal, anteriormente descida e lentamente elevada como promessa de sacrifício ritual, permanece suspensa. Ao invés da sua queda, outros detritos plásticos isolados, como balões em movimento inverso, caem da grelha superior do poço que nos encerra.
Sem que qualquer som de alarme soasse, começamos a abandonar o espaço. Não sem antes lançar um último olhar ao fundo do poço. Corpos espalhados, caídos, imóveis, incrustados na terra, parecem vir à superfície pela acção erosiva do tempo, contornos humanos no meio de destroços.